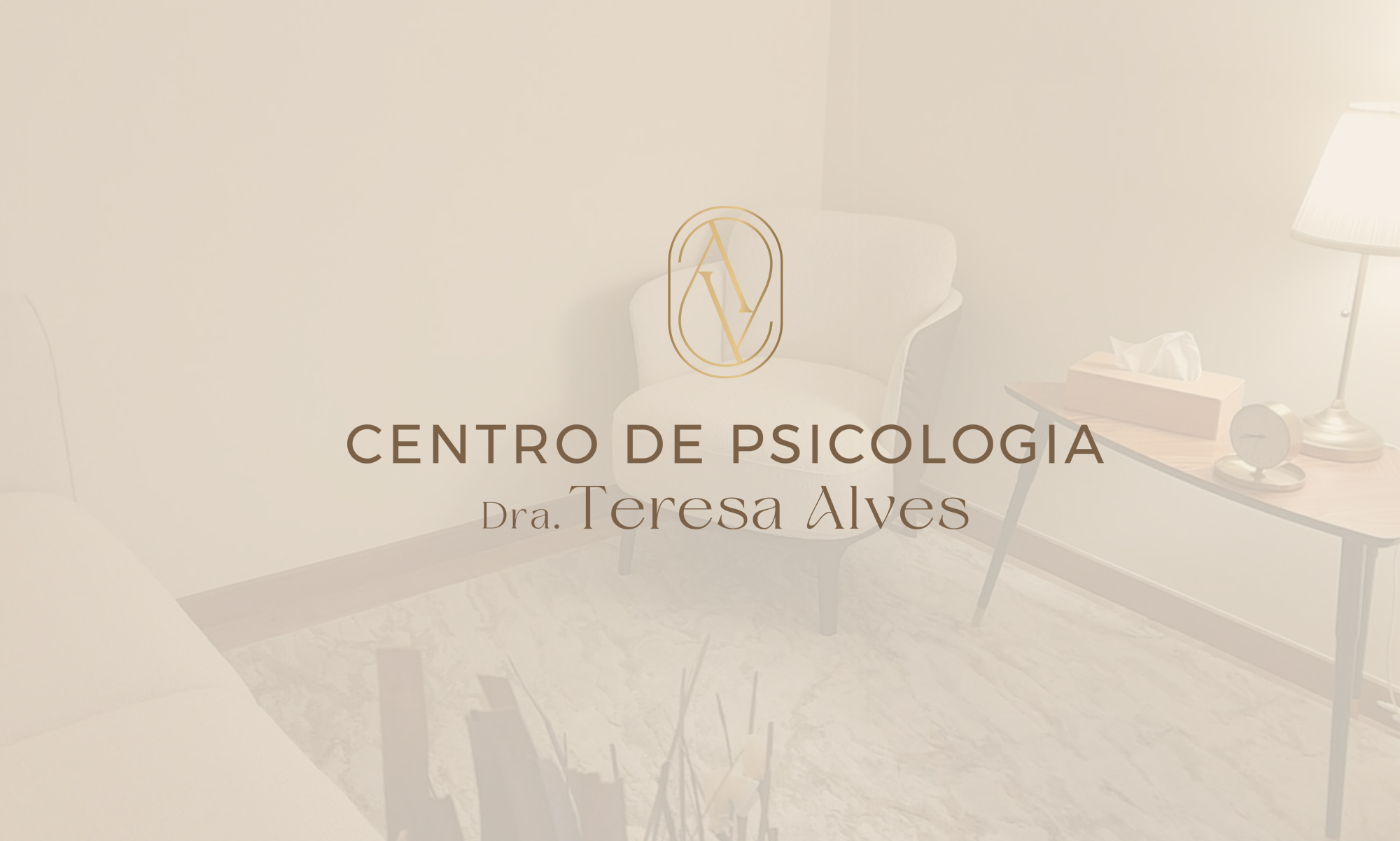A perda gestacional é uma perda que ocorre a qualquer momento da gestação, através de aborto espontâneo ou induzido, morte de um gémeo na gestação, feto morto no útero ou durante o parto, morte prematura ou recém-nascido. A perda gestacional implica uma quebra súbita e imprevista da ligação emocional que os pais vinham a construir desde que tiveram conhecimento da gestação. Há um vínculo que é rompido, e é por isso iniciado um processo de luto, com um grande sofrimento associado. Este é um luto que traz ao casal um grande sentimento de impotência, que é sentido por ambos como uma crise, um desequilíbrio que encontram entre as dificuldades do problema a ser enfrentado e os seus recursos pessoais imediatamente indisponíveis para lidar com a situação.
O luto perinatal, à semelhança de qualquer outro tipo de luto, caracteriza-se como uma reação à quebra de um vínculo afetivo, pelo rompimento de uma relação significativa que implica a necessidade de mudança e adaptação, no caso, de se adaptar à vida sem a concretização da maternidade, que fica aqui interrompida. Mas este é também um luto quase sempre invalidado e não autorizado pela sociedade. Há uma incompreensão desta dor e de todo o conjunto de perdas secundárias que daqui advêm para o casal. Os pais veem aqui perdida também a oportunidade de exercer a parentalidade, os sonhos e projetos foram também anulados por esta perda.
O luto perinatal deve ser reconhecido e respeitado pela sociedade. É enorme o sofrimento que estes pais sentem e muitas vezes, em silêncio absoluto. Este é um dos lutos mais complexos e que tem menor validação social. Os pais sentem pouco apoio emocional, compreensão, afirmação e validação social. Invalidam-se expetativas, desejos e a própria dor. Este é um luto vivido silenciosamente, isolado, sem expressão de sentimentos, podendo chegar a tornar-se um luto complicado.

A mulher, numa sociedade em quem tem um pouco mais de espaço à expressão de sentimentos de dor, tende ficar presa na autoculpazibilização, porque se cobra justamente pela falta de investimento afetivo que acha que deveria ter tido durante a sua gestação, a sentir-se fracassada, inadequada, culpada, envergonhada e diante desta dor e perante a falta de expressão do marido, geralmente distancia-se. Para a mãe, a construção de um vínculo com o filho precede a sua chegada, pois é daqui que emerge a vinculação com o filho. Se para a mãe há um reconhecimento do filho perdido, para as pessoas à sua volta, que a acompanham, é difícil vislumbrar o que ela perdeu. E daqui se depreende que a elaboração deste luto tem uma dinâmica muito diferente, e é de uma violência extrema para a mulher, já que a construção de vínculos afetivos fortes e a ausência da criança é profundamente contida, há a sensação para a mulher que lhe foi retirada parte do seu corpo.
Não é incomum, segundo a investigação, que este luto perinatal desmantele de alguma forma o entendimento do papel feminino, que passa a ser acompanhado pelo desprezo, sentimento de inferioridade e fracasso, inadequação e um profundo sentimento de ineficiência. É um “golpe” duríssimo para a autoestima e autoconfiança da mulher, para a sua identidade feminina. A construção do papel de mãe, esta identidade materna que foi construindo ao longo da gestação é abruptamente interrompida e a maternidade é considerada, culturalmente, uma das experiências mais marcantes do desenvolvimento da mulher.
O homem, na tentativa de não exarcebar a dor da mulher, tende a abafar a sua própria dor. Mas este homem também tinha investido emocionalmente neste papel parental, também tinha construído sonhos e planos para a chegada deste filho. O pai vê-se chega a ver-se aqui desvalorizado, com a supervalorização da mãe, não tendo muitas vezes espaço à expressão de sentimentos. Ao pai é muitas vezes comunicado bruscamente a morte do bebé, sendo raros os momentos em que lhe é permitido expressar a dor, sendo colocado em contacto com esta realidade de uma forma pouco cuidadosa.
O casal tem de vivenciar este luto numa sociedade que procura evitar este luto, optando pela negação e racionalização. As reações das pessoas à perda deste bebé são sentidas pelos pais como desconcertantes. A morte de um filho, mesmo antes do seu nascimento, relembra o rompimento da ordem natural da vida e interrompe sonhos, esperanças, expetativas e a espera existencial, que geralmente são depositadas na criança que estava a ser gerada.
No luto, perder os pais ou um ente querido é perder o passado, mas perder um filho, mesmo que este ainda não tivesse nascido, é como se o casal perdesse o futuro. É necessário que o casal encontre o espaço, a validação e a comunicação entre si, que encontrem suporte nesta dor e na vivência deste luto. Frases como “vocês são novos, voltas a engravidar; ainda nem era um bebé, não justifica ficar assim; pensa que podia nascer com uma doença…” definitivamente não ajudam o casal. Nestas situações, parafraseando Eurípedes, “fala se tens palavras mais fortes que o silêncio, caso contrário, guarda silêncio”. Por vezes, poderá ser só isso que o casal precisa, sentir o apoio e conforto de amigos e familiares, mesmo que em silêncio.
O luto perinatal é uma perda não plenamente reconhecida, que não é abertamente apresentada e muito menos socialmente validada. A psicologia entende que para elaborar esta dor é necessário que ela seja verbalizada, vivida, sentida, refletida e elaborada, não negada.